Roland
Barthes, “A Câmara Clara”
Confesso que me arrepio sempre que sou obrigado a olhar
para uma dessas fotos estampadas nos cartões de cidadão. Rostos deformados,
olhares vazios, volumes esbatidos. Será inabilidade, desleixo, ou má vontade do
funcionário que opera a máquina responsável pelas fotos? Nada disso. Mesmo levando a
nossa foto preferida, a cores e com todos os retoques, chapam-nos no cartão uma
máscara sem vida nem personalidade. A culpa será então da máquina, que
interpreta grosseiramente os traços físicos particulares de cada indivíduo mas
também esses sinais conotativos da personalidade que todo o ser humano
reconhece noutro ser humano. Uma capacidade que se estende à fotografia de
retrato feita por seres humanos, cuja qualidade não depende em exclusivo do
realismo da fotografia, procura a chama da vida no rosto do fotografado,
foca-se na personalidade e dimensão humana do indivíduo. A máquina fica-se
pelas evidências físicas típicas mais genéricas, ao estilo dos “retratos robot”
utilizados pela polícia.
Há poucos anos, os “retratos robot” eram desenhados por
artistas ao serviço da polícia. Vi alguns desses retratos, cujas preocupações
realistas exigiam sombras certas e texturas bem trabalhadas. Atualmente, os “retratos
robot” são obtidos por computador a partir da sobreposição dos mais diversos
elementos físicos e a máquina realiza automaticamente a pesquisa de fotos nas bases de dados disponíveis. Claro que as fotos de polícia também têm caraterísticas
bem particulares, seja pelas condições em que são feitas, seja pelo interesse prático
do registo fotográfico, mas exprimem uma dimensão humana do retratado que ele
jamais estaria disposto a mostrar noutras circunstâncias. Essas fotografias
reproduzem o olhar superficial e o desinteresse do funcionário encarregado de
fotografar (quando se trata de um fotógrafo, os resultados são bem diferentes),
tal como acontecia no antigo serviço militar obrigatório e vai acontecendo nas morgues,
pois o seu propósito é recolher dados objetivos – tal como a máquina que nos
tira o retrato para o cartão de cidadão.
Os artistas que trabalham com a polícia preferem o
anonimato, por razões óbvias – ao contrário dos artistas de tribunal, que
ganham a vida retratando os momentos mais significativos dos julgamentos onde
se proíbe a entrada de máquinas de fotografar e filmar. Dois dos mais conhecidos
são americanos, William J. Hennessy Jr. e Vicki Behringer. O que às vezes corre mal é
a precipitação e o improviso, pois nunca houve maus desenhadores a trabalhar
para a polícia. O famoso “retrato robot” do presumível raptor de Madeline
McCann, muito parodiado pelos ingleses e espanhóis (1), transmitia apenas as dúvidas
e perplexidade da polícia portuguesa relativamente a um caso que ainda hoje continua
por resolver.
August Sander (1876-1964) foi perseguido pelo regime nazi
pois os seus retratos de gente comum não se enquadravam
na estética do nazismo.
Uma fotografia de retrato aceitável, na perspetiva
humana, será aquela em que o fotógrafo interpreta a realidade a fotografar
manipulando os mais diversos fatores (ponto de vista, composição, iluminação, efeitos especiais) de modo a destacar a dimensão humana do
fotografado. Há imensa bibliografia sobre o assunto mas continuo a preferir o
belíssimo livro de Roland Barthes, “A Câmara Clara” (2). Na perspetiva da
máquina, tudo o que for além das características humanas essenciais é supérfluo
e o próprio reconhecimento do indivíduo será reproduzido a partir dessa representação
esquemática, criando e difundindo uma realidade distinta, uma realidade
paralela.
E não poderá o homem, com toda a sua inteligência e
criatividade, construir uma máquina que substitua um bom fotógrafo? Ainda não.
E todas as tentativas nesse sentido não passam, para já, de curiosidades
tecnológicas, tal como a máquina que pinta como um artista – inventada por engenheiros
japoneses e apresentada este ano na principal feira de tecnologia japonesa, a CEATEC
2012. O que a nova máquina japonesa faz é imitar com exatidão os traços de
artistas e calígrafos. Vários artistas induziram computadores a produzir obras
plásticas, entre os quais o português Leonel Moura (Lisboa, 1948), mas não
poderá nunca falar-se de obras de Arte. A máquina copia, imita com perfeição,
reproduz com exatidão – por determinação humana. Vê-nos como é determinado que
nos veja e talvez resida aí, no “como” e “para quê”, o principal problema. O
homem sempre procurou humanizar o mundo à sua volta - seja atribuindo humores
humanos aos elementos, desenhando os canteiros do jardim, imaginando animais
falantes ou batizando catástrofes naturais com nome de gente - mas as
tentativas de humanização da máquina tornaram-se obsessão desde os autómatos humanoides
do séc. XVIII - bonecos mecânicos conhecidos por “Andróides”, precursores dos
robots (3) - e acentua-se à medida que as máquinas adquirem autoconsciência e
autonomia. Não estamos muito longe disso: muitas máquinas industriais conseguem já detetar as próprias avarias e reparar automaticamente algumas delas.
Todos estes progressos têm riscos. Desconfiemos de tudo o
que parece só ter vantagens (um ensinamento que já vem dos filósofos
pré-socráticos). O modo como a máquina nos vê pode tornar-se rapidamente no
modo como a máquina nos trata. O que pretende dizer-nos realmente Carlo Collodi
(1826-1890) com a história de Pinóquio (1883), um boneco de madeira que sonha
transformar-se num menino de verdade? Ou Mary Shelley (1797-1851), que teve a
ideia de Frankenstein num sonho acordado e escreveu o famoso romance, cujo
título completo é “Frankenstein ou O Moderno Prometeu” (1818)? Escritas no
século XIX, estas histórias foram mantidas como “best-sellers” ao longo de mais
de um século e assim continuam (agora com a ajuda do cinema) rumo ao futuro,
pois parecem o que são: histórias destinadas a um tempo que ainda não chegou
mas que já se anuncia. Aonde nos conduzirá tudo isto, agora que confiámos às máquinas todo o nosso
conhecimento e memórias, todas as nossas economias, toda a nossa segurança, assim como os mais
diversos botões que ligam e desligam as nossas vidas?
(1) - Legenda de uma reprodução do referido “retrato-robot”
num site espanhol: “Siempre que uno se lamenta de la situación de España, puede
consolarse pensando en Portugal: este es el acertado retrato del rostro que la
policía portuguesa realizó cuando comenzó las labores de búsqueda. No hace
falta decir más.”
(2) - BARTHES,
Roland, A Câmara Clara, Edições 70, Coleção Arte&Comunicação, Lisboa,
1989. O título original (1980) é "La Chambre Claire: note sur la photographie".
(3) - O mais famoso automatista do século XVIII foi o
francês Jacques de Vaucanson (1709 – 1782), secundado por mestres (quase sempre
relojoeiros) como Jacquet-Droz (1721-1790), Louis Leschot (1779-1838).
e o suíço Henri Maillardet (1745-?). Conhecidos por “Andróides”, os autómatos
com forma humana eram peças complexas que reproduziam na perfeição os
movimentos humanos de escrever, desenhar ou tocar instrumentos. O propósito dos
automatistas era imitar a vida através de meios mecânicos e os seus autómatos fizeram
sucesso em feiras, exposições e espetáculos na Europa e na América. Um autómato
de Maillardet ainda funciona e pode ser visto no YouTube. O mais famoso era um
imbatível jogador de xadrez, construído em 1770 por Wolfgang von
Kempelen (1734-1804), que funcionava mecanicamente na perfeição mas cuja
alegada “inteligência artificial” se devia, na realidade, a um exímio jogador de
xadrez anão que operava a máquina escondido no seu interior.




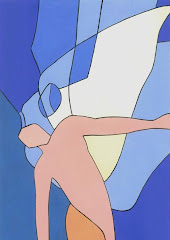
Sem comentários:
Enviar um comentário